Domingo, 08 de Fevereiro de 2026
Domingo, 08 de Fevereiro de 2026
Por Redação Rádio Pampa | 8 de fevereiro de 2026
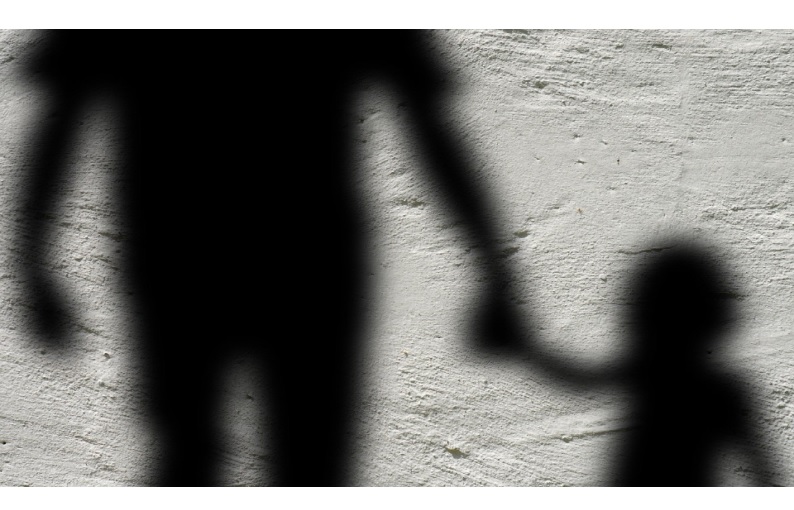
Recentemente, a senadora Damares Alves lançou uma pergunta que deveria atravessar a consciência coletiva brasileira: por que a sociedade se mobiliza com tanta intensidade diante da violência contra animais, mas não demonstra a mesma reação quando as vítimas são crianças?
A pergunta é desconfortável. Por isso mesmo, necessária.
Veja, os números brasileiros não permitem relativizações. Somente em 2025, o país registrou mais de 83 mil pessoas desaparecidas, sendo quase 30% menores de idade. Isso significa que, todos os dias, a-cada-santo-dia!, dezenas de crianças e adolescentes simplesmente somem no Brasil. Muitas jamais retornam.
No mesmo período, o país registrou índices igualmente alarmantes de violência sexual: centenas de estupros e abusos são notificados diariamente, e a esmagadora maioria das vítimas tem menos de 14 anos.
Esses dados não representam apenas estatísticas criminais. Eles revelam uma falha civilizatória profunda. E, pior: quem não olha pelas suas crianças não está apenas fechando os olhos para uma vítima específica – está sendo conivente com a manutenção de sua sociedade doente.
Organismos internacionais tratam o tema com a mesma gravidade. A Organização das Nações Unidas e o UNICEF classificam a violência infantil como uma das maiores crises silenciosas da atualidade, destacando que milhões de crianças ao redor do mundo são submetidas a abusos físicos, sexuais e psicológicos — muitas vezes dentro do próprio ambiente familiar, justamente onde deveriam estar protegidas.
E aqui surge um dos aspectos mais perturbadores dessa realidade: a maior parte dos abusos contra menores não ocorre nas ruas, mas dentro de casa ou praticada por pessoas próximas às vítimas.
Tal constatação nos obriga a encarar uma verdade incômoda: o perigo nem sempre está no desconhecido. Muitas vezes ele está no silêncio, na negligência e na incapacidade social de enxergar aquilo que acontece diante dos próprios olhos.
Explico. A ciência contemporânea tem revelado algo que, durante séculos, pertenceu mais à filosofia e à literatura do que à biologia: o sofrimento humano pode atravessar gerações. Não se trata de memória no sentido tradicional, como lembranças ou narrativas familiares transmitidas entre pais e filhos. Trata-se de algo mais profundo e silencioso: a chamada memória transgeracional do trauma.
Nas últimas décadas, pesquisas em neurociência e epigenética passaram a demonstrar que experiências extremas vividas por uma geração podem alterar o funcionamento biológico do organismo e influenciar o comportamento e a saúde emocional das gerações seguintes. A epigenética é o campo científico que estuda como fatores ambientais e experiências de vida podem modificar a forma como os genes são ativados ou silenciados, sem alterar o DNA em si. Em outras palavras, o código genético permanece intacto, mas a forma como ele se expressa pode ser profundamente impactada por experiências como violência, medo extremo, negligência ou abuso.
Uma das principais referências mundiais nesse tema é a psiquiatra e neurocientista Rachel Yehuda, professora da Escola de Medicina Mount Sinai, em Nova York. Seus estudos com descendentes de sobreviventes do Holocausto demonstraram que filhos e até netos de pessoas expostas a traumas severos podem apresentar alterações biológicas relacionadas à resposta ao estresse, maior vulnerabilidade à ansiedade e maior risco de transtornos psicológicos — mesmo sem terem vivenciado diretamente os eventos traumáticos. Essas pesquisas indicam que o trauma pode deixar marcas mensuráveis em sistemas hormonais e neurológicos, especialmente nos mecanismos ligados ao cortisol, hormônio fundamental na regulação do estresse. Em termos simples, é como se o organismo herdasse uma espécie de alerta biológico ampliado diante do perigo.
A psiquiatra Judith Herman, referência mundial no estudo do trauma psicológico, reforça que a violência contra crianças raramente termina no momento do abuso. Segundo ela, quando o sofrimento não é reconhecido, tratado ou elaborado, ele tende a se perpetuar através de padrões emocionais e relacionais que podem atravessar gerações inteiras.
Décadas antes dessas comprovações biológicas, a psicanalista Alice Miller já alertava que sociedades que negligenciam a proteção da infância acabam produzindo ciclos invisíveis de dor. Para Miller, crianças expostas à violência frequentemente carregam marcas emocionais profundas que influenciam sua visão de mundo, sua autoestima e sua capacidade de estabelecer vínculos saudáveis ao longo da vida.
Hoje, a ciência começa a oferecer respaldo empírico para essa intuição clínica e filosófica.
Estudos envolvendo populações expostas a guerras, fome, deslocamentos forçados e violência doméstica demonstram que o trauma pode alterar não apenas comportamentos individuais, mas também predisposições biológicas ao estresse e à vulnerabilidade emocional. Não se herdam lembranças específicas, mas pode-se herdar uma espécie de “impressão biológica” do sofrimento vivido por gerações anteriores.
Essa descoberta impõe uma reflexão profunda sobre o impacto social da violência infantil.
Quando uma criança é submetida ao abuso, a agressão não atinge apenas aquele momento da vida. Ela pode desencadear um efeito dominó emocional, psicológico e biológico que atravessa famílias inteiras e, potencialmente, a própria estrutura social.
Proteger crianças, portanto, não é apenas uma obrigação moral ou jurídica. É uma estratégia de saúde pública, de estabilidade social e de preservação civilizatória. Porque cada infância protegida representa não apenas uma vida salva no presente, mas também a possibilidade de interromper ciclos históricos de sofrimento antes que eles se tornem herança invisível para o futuro.
Nos últimos anos, algumas sociedades decidiram enfrentar essa realidade com seriedade e planejamento estrutural. Países como Islândia, Suécia e Noruega tornaram-se referências globais na proteção infantil ao transformar o cuidado com crianças em verdadeira política de Estado.
A Suécia, por exemplo, foi pioneira ao proibir castigos físicos contra crianças ainda na década de 1970, promovendo uma mudança cultural profunda sobre os direitos da infância. A Islândia investiu fortemente em educação preventiva, redes integradas de proteção social e programas de apoio às famílias, reduzindo significativamente os índices de violência contra menores. Já a Noruega criou modelos inovadores de investigação, como o sistema Barnahus, que reúne polícia, justiça e psicólogos em ambientes humanizados para evitar a revitimização das crianças durante processos judiciais.
Essas experiências demonstram que a violência infantil não é uma fatalidade inevitável. Ela pode ser combatida quando há vontade política, integração institucional e mobilização social.
O Brasil, no entanto, ainda oscila entre momentos de indignação episódica e longos períodos de silêncio coletivo.
Agora, façamos um paralelo com o recente caso – de extrema crueldade contra o cão Orelha- e que gerou revolta nacional. Com toda razão, aliás. A violência contra animais precisa ser combatida com firmeza. Mas a comoção também evidenciou um contraste contraditório: crimes igualmente brutais (ou ainda mais!) contra crianças raramente provocam a mesma mobilização social.
Essa reflexão não diminui a causa animal, tá? Não sejamos simplistas. A provocação, aqui, serve para ampliar o debate sobre prioridades morais e sociais. Porque, sim, há algo profundamente perturbador em reconhecer que, apesar de todo o avanço tecnológico, jurídico e institucional, ainda convivemos com formas primitivas de violência humana. Existem indivíduos que parecem operar à margem de qualquer senso moral, capazes de transformar inocentes em objetos descartáveis.
A filósofa Hannah Arendt alertava que o mal, muitas vezes, não nasce de monstros extraordinários, mas da banalização da indiferença (já venho falando sobre isso seguidamente, aliás). E, talvez, seja exatamente essa indiferença que permita que crianças desapareçam, sejam exploradas ou violentadas sem provocar reação proporcional da sociedade.
Proteger a infância não é apenas uma pauta social. É um termômetro civilizatório. Uma sociedade que não protege suas crianças não compromete apenas o presente. Compromete o próprio futuro.
Ali Klemt
@ali.klemt